Francisco Cancela é um historiador da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus 18, em Eunápolis. Tem formação integral na área da História, graduação mestrado e doutorado em história social do Brasil pela UFBA. No seu trabalho, pesquisa especificamente sobre a trajetória dos povos indígenas no extremo sul da Bahia, no que formava, no período colonial, a antiga capitania de Porto Seguro. A sua pesquisa tem sido a de tentar identificar como os povos indígenas, que eram muitos nessa região, como os pataxó, maxakali, krenak, botocudo, tupiniquim, dentre outros, estabeleceram políticas para se relacionar com a sociedade portuguesa. Na medida em que o estado português elaborava sua política indigenista, é possível identificar que os povos indígenas elaboravam estratégias para poder se relacionar com a sociedade envolvente. Ele, então, tenta, nessas pesquisas, destacar este protagonismo indígena já no período colonial, nessa transição do colonial para o imperial.
Francisco tem também uma atuação na formação de professores indígenas. A UNEB tem um curso chamado LICEEI —licenciatura intercultural em educação escolar indígena— que forma professores indígenas, e é o coordenador da área de história desse curso, que é um dos pioneiros do estado para formação de professores indígenas. Conversei com ele no dia 15 de junho sobre como o conceito de povos é visto sob o ponto de vista da história.

Na prática, esse termo hegemônico, a visão hegemônica que tem o termo povo, está muito articulado com o conceito de estado-nação, com a disseminação deste conceito. Então povo é compreendido como aquela população que está subordinada num determinado território a um conjunto de normas jurídicas, legais e ao mesmo tempo compartilham signos culturais como a língua, a religião. Então esse conceito clássico de povo, que é o conceito mais hegemônico, ele não tem uma relação muito direta com as populações indígenas. As populações indígenas podem ser muito mais bem definidas como grupos étnicos que também compartilham elementos culturais, atuam e vivem num determinado território e possuem, portanto, línguas e universos religiosos comuns, mas não há essa presença específica necessária do estado para poder definir esse grupo étnico.
Eu acho que a grande diferença é a relação com essa instituição estatal e para os povos específicos aqui dessa região da América do Sul não havia a existência dessa instituição, diferente do que se a gente for olhar outras regiões da do continente americano, em que você tinha estrutura estatal e já tem um outro processo histórico de formação.
Eu acho que em alguma medida a gente usa o termo povos indígenas mais para quebrar o domínio que o termo índio teve na nossa formação histórica. O termo índio é um termo genérico altamente eurocêntrico e tem um impacto muito grande na homogeneização cultural. Ou seja, transmite uma ideia de que existe apenas um grupo, um tipo de índio. A gente acaba utilizando a expressão povos indígenas para afirmar que existe uma sociodiversidade grande entre esses grupos étnicos. Por exemplo, colocar um maxakali junto com um tupiniquim é a mesma coisa que colocar um inglês junto de um japonês.
Então, em alguma medida, para que a gente consiga desconstruir uso corrente no Brasil do termo índio, optou-se em usar o termo povos indígenas numa perspectiva de afirmar a existência de uma diversidade sociolinguística que é característica desses povos e que navega numa tentativa de exigir que esses povos sejam reconhecidos também dentro da sua diferença e que, portanto, sejam assegurados os direitos a esses povos.
Com tudo isso, eu estou querendo dizer que é um recurso de uso do povo, mas muito distante daquele conceito original lá do Estado nacional. O conceito mais coerente continua sendo conceito de comunidades étnicas ou grupos étnicos. Assim, vão se constituir esses grupos a partir da ação política deles, da habitação do determinado território, no compartilhar de signos culturais próprios que marcam os seus traços distintivos.

A partir do momento que se afirma a pluralidade dos povos indígenas a gente também aponta para uma interpretação da história que não pode ser linear, que precisa contemplar as especificidades das relações de cada grupo étnico com a sociedade nacional.

Os maxakali vivenciaram uma experiência com os portugueses diferente da dos tupiniquins. Porque embora a colonização fosse a mesma, ou seja, ela tinha os interesses objetivos semelhantes, esses povos interpretaram a presença do outro, do estrangeiro, do europeu a partir do seu horizonte cultural. Essa trajetória histórica, que é anterior à presença europeia, explica uma série de alianças que foram constituídas. Às vezes as pessoas têm uma compreensão muito restrita do processo histórico e se perguntam por que os tupiniquim se aliaram aos portugueses para poder encampar guerras contra os tupinambá. Eles eram inimigos seculares, tinham uma longa trajetória de guerras intertribais. Quando os tupiniquim veem a possibilidade de fechar uma aliança com os portugueses, não há nada de ingênuo nisso. Na verdade, eles interpretam aquilo como uma janela de oportunidade para lutar contra seus inimigos históricos.
Nós que escrevemos a história indígena temos um duplo desafio. O primeiro é tentar inserir a presença dos índios enquanto sujeito protagonista da história. Esse é o primeiro grande desafio porque a nossa tradição historiográfica, que é eurocêntrica, sempre concebe os europeus como o motor e sujeito da história. O segundo grande desafio é o de tentar escrever essa história a partir da perspectiva indígena. É de fato um grande desafio este segundo, porque o exercício historiográfico depende do diálogo com as fontes, das evidências do passado para que a gente possa recompô-las.
E qual é o grande problema desse ofício historiográfico? É que a tradição europeia de se produzir o conhecimento histórico, sobretudo a do século XIX, e que se tornou hegemônica no mundo inteiro, é de que a história mais verdadeira é aquela que é embasada em documentos escritos e oficiais. Se a prova da história é um documento escrito oficial, os povos indígenas, do que veio a se tornar o Brasil, por serem povos ágrafos, eles não teriam condições de entrar na história. Inclusive a tese que foi formulada oficialmente pela historiografia brasileira no século XIX, sobretudo por um historiador do Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro chamado Francisco Adolfo de Varnhagen, que escreve o seguinte trecho no primeiro livro acadêmico sobre a história geral do Brasil: “dos povos indígenas não é possível se falar de história; só é possível se fazer etnologia.”

E por que que ele partilha desse princípio? Porque como ele era um historiador positivista, em que é preciso ter as fontes, o documento escrito oficial não tinha condições de você pensar em falar de uma história indígena.
O que nós historiadores temos produzido sobretudo depois da década de 1970?
A gente tem lido a documentação escrita a contrapelo. Ou seja, a gente tenta encontrar num documento escrito por um jesuíta a presença da voz indígena. Ao mesmo tempo a gente faz um cruzamento de fontes, utilizando outro tipo de evidência que não apenas o documento escrito e oficial, como evidências arqueológicas, linguísticas e um conjunto de outras informações que pode contribuir para a gente compreender a atuação desses povos na relação com os europeus e, nesse sentido, a gente construir uma nova leitura da nossa trajetória histórica que leve em consideração repensar também a prática da feitura, do modo de se fazer a história.
Necessariamente, quem faz história indígena faz um exercício interdisciplinar. A gente precisa entender outros elementos para dar conta de superar um procedimento metodológico que é típico desta disciplina que ganha força no século XIX.
Não é que esses povos não tinham história, é que a historiografia produzida no Brasil, sobretudo a historiografia nacional construída no século XIX, tem o objetivo de afirmar o estado brasileiro independente, que ela via a necessidade de afirmar o Estado nacional.

Isso significa que esta instituição faz toda a produção historiográfica a partir de uma tradição europeia clássica. Varnhagen vai dizer que muito mais importante na nossa formação é a herança europeia. A ideia é construir o povo da nova nação, e esse povo precisa ser um povo homogêneo.
Até a década de 1970, quem falava sobre índios eram os antropólogos. Nós, os historiadores, não tratávamos dessa temática. Então é, de fato, uma nova tendência já consolidada, dentro do nosso ofício, da Associação Nacional de História, a gente já tem um grupo permanente de estudo chamado “Índios na história“. Ou seja, a gente tem hoje um acúmulo dessa nova perspectiva de tentar reinterpretar a formação histórica do Brasil, dando vazão a este protagonismo indígenas e tentando, ao mesmo tempo, construir as narrativas a partir da perspectiva desses povos.
Na prática, o que havia era uma perspectiva de dualidade entre civilização e barbárie. O que a gente ouve na fala do Weintraub e na fala de Bolsonaro quando tratam dos povos indígenas é a retomada de um discurso e de uma prática indigenista que está assentada no período colonial e, sobretudo, no século XIX. É um discurso assimilacionista que volta com muita força.
A gente teve pela primeira vez na Constituição de 1988 uma virada na política indigenista no Brasil. Nela, apontou-se a possibilidade dos índios se manterem enquanto índios. Porque toda as Constituições anteriores e toda a ação dos Estados nacionais, supunham incorporar de forma forçada os indígenas à sociedade nacional. A pratica de assimilar esses índios é tanto racista quanto extrativista, de expropriação do território.
Quando o governo atual defende a liberação da mineração nas terras indígenas, o argumento é esse, de que os índios precisam entrar na sociedade e a gente precisa garantir isso para desenvolver a nação. Para se construir uma ideia de nação homogênea, dissemina-se uma série de narrativas, tanto do ponto de vista historiográfico, como também da literatura, com surgimento do indianismo, que tem um peso significativo e constrói uma referência indígena, mas de um índio que está morto. Aquele índio que se lê José de Alencar já morreu.
Quando na segunda metade do século 19 o indianismo estava sendo produzido, existiam muitas populações indígenas no Brasil, mas os intelectuais negaram a presença desses povos. Se constrói, assim, uma referência, uma imagem de um índio ideal.
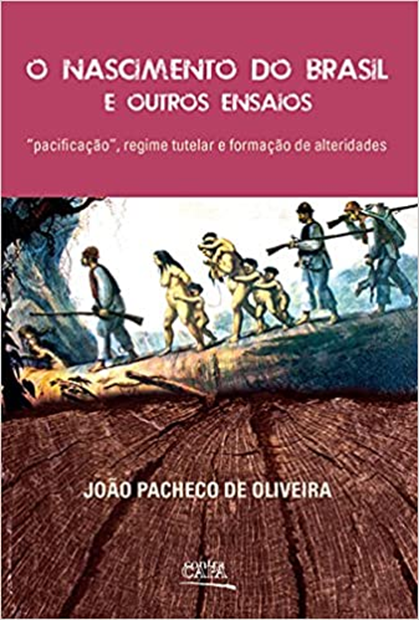
Na contemporaneidade. os índios são, pro governo Bolsonaro, o entrave do desenvolvimento. Eles representam mais uma vez o conflito entre civilização e barbárie. É a retomada de regimes de memória dominantes. João Pacheco de Oliveira escreveu um livro que se chama “O nascimento do Brasil”. Nele, Oliveira apresenta o que chama de regime tutelar, que são alguns elementos que estão presentes na nossa interpretação dos povos indígenas. Então nós enquadramos os povos indígenas em determinadas arquiteturas de memória e isso vira uma verdade. Assim, um índio de verdade é aquele índio distante, e isso se reproduz na escola com um índio estereotipado.
Edson Kayapó diz que o único índio que existe é o metal na tabela periódica. Eu acho essa referência incrível, porque parte de uma liderança intelectual indígena, e porque o que ele tenta afirmar com isso é desconstruir essa ideia genérica de índio.
Esse índio que é concebido como coisa do passado, que vive na mata, mora na oca, fala tupi, adora jaci, se enquadra num conjunto de elementos a-históricos, que não têm mudança histórica, assentada numa concepção de cultura que é extremamente estagnada. Essa construção tem um objetivo muito evidente, que é destituir os grupos indígenas de reivindicarem as suas diferenças culturais.
Conceitualmente, toda cultura se transforma. E em todos os grupos indígenas ao longo desses mais de 500 anos de contato com a sociedade nacional, suas culturas se transformaram. Não existe uma cultura pura. A construção de uma ideia de cultura pura tem um objetivo político da dominação, da hierarquização, da exclusão e do impedimento do lugar de fala.

Os pataxó, mais recentemente, vivenciaram uma experiência de retomada linguística. Eles tinham perdido o uso corrente da língua e resolveram, no final da década de 1990, criar um grupo de pesquisadores indígenas e começaram a fazer a entrevista com os anciãos, foram para os livros de viajantes, recompuseram uma série de vocabulários da língua pataxó e recriaram o chamado patxohã, a língua pataxó. E hoje eles a ensinam nas escolas. As crianças maxakali aprendem o português apenas quando estão saindo da segunda fase da infância.
As escolas dos territórios indígenas usam como referência a língua para afirmar sua diferença, para afirmar sua identidade, para dizer para o outro que eles são indígenas. Em alguma medida, essa relação da afirmação da diferença é porque o outro, sobretudo o estado, exige que esses grupos apresentem traços distintivos para que eles possam ser reconhecidos como indígenas.
Portanto, há diferenças muito grandes desse arquivo cultural desses grupos na preservação ou não de determinados traços distintivos. Mas o que importa é que esses grupos mantêm, dentro desse território que eles conseguiram preservar, um conjunto de práticas, de valores e de saberes que os caracterizam enquanto indígenas.
Vale destacar também como a fala maliciosa do Weintraub revela uma estratégia discursiva que é não dar crédito aos grupos indígenas, de colocar suspeição sobre a legitimidade desses grupos. Por isso que eles não são índios, eles são descendentes de índios.
Quebra-se, com isso, uma ideia de que esses grupos teriam o direito de lutar pelo que eles lutam, como a terra, educação e saúde diferenciadas. Nesse tipo de discurso, há o uso de um conjunto de elementos conceituais que estão equivocados e se esquece das trajetórias históricas, se esquece que, em alguma medida, a mestiçagem foi obra da própria imposição colonial. No século XVII, por exemplo, o Estado e vai obrigar os grupos indígenas a se casarem com os portugueses.

No governo do Marquês de Pombal, decreta-se uma lei do casamento misto (Lei do Diretório Pombalino, de 1757), em que um português que se casasse com uma indígena teria acesso à terra, vaga na Câmara Municipal e honras. Por causa disso, muitos portugueses pobres passam a caçar indígenas para poder se casarem e, com isso, obter esse tipo de benefício. Portanto, a mestiçagem foi uma ação promovida pelo estado.
Ao mesmo tempo, é evidente que há uma estratégia que está em sintonia com o discurso de muitos proprietários de terra. No Sul da Bahia, naquela região do território Catarina-Paraguaçu, onde ficam ospataxó hã-hã-hãe, é comum os proprietários de terra dizerem que lá estão os índios ‘fabricados pelos antropólogos’.
Então o Weintraub não fala aquilo de forma ingênua. Ele solta naquela frase uma intenção política muito evidente de trazer descrédito às populações indígenas que lutam sobretudo pela demarcação de seus territórios.
A construção do povo brasileiro é abstrata.
Tenta-se, do ponto de vista acadêmico, enquanto exercício da sociologia, da antropologia, da história, identificar a trajetória e a formação desse povo. Mas todos nós sabemos que não é possível encontrar uma fórmula única descrevê-lo. Nossa formação foi constituída por meio de diferentes grupos étnicos e culturais e isso resultou num povo extremamente diverso. O que mais caracteriza o povo brasileiro é a diversidade.
Essa diversidade também é recortada por grandes e estruturais desigualdades, que estão pautadas no processo histórico de formação dessa sociedade que optou desde a origem do estado nacional, no século XIX, a excluir essas populações.
Eu acho que a gente tem um grande desafio ao se pensar a temática da gente retomar a leitura sobre a nossa formação histórica. É preciso repensar os marcos da nossa formação histórica. Não dá para gente novamente repetir o discurso eurocêntrico de que nossa história começa em 1500, porque essa é uma narrativa construída e contada a partir do ponto de vista exclusivo dos portugueses.
Na cidade Porto Seguro, ao entrar na cidade, a primeira estátua que se vê é uma imensa de Pedro Álvares Cabral. A primeira rua em que se vai andar se chama 22 de abril. A outra rua, perpendicular, é a Avenida dos Navegantes, a outra rua é a Pero Vaz de Caminha, a outra é Avenida Portugal. Ou seja, a cidade é embebida de colonialidade. É preciso decoloniar o olhar que a cidade tem sobre si para que a gente Identifique e valorize a diversidade cultural desses grupos que formaram Porto Seguro. É uma patrimonialização que é comum a várias outras cidades, que elimina a presença dos povos indígenas, elimina a presença dos grupos africanos, e é uma forma de monopolizar a narrativa sobre a nossa formação.
Então é preciso, ao discutir a ideia de povo brasileiro, reconhecer que a nossa formação foi baseada num processo violento de exploração e de expropriação territorial, porque ao reconhecer isso a gente coloca a responsabilidade no estado de reparação territorial e políticas públicas para a inclusão dessas populações na sociedade. Depois, a gente também precisa reconstruir essas narrativas, repensar a forma de escrever essa história para que a gente possa quebrar de uma vez por todas as ideias de homogeneização que não prestam nenhum serviço para a construção do estado democrático de direito.
Entrevista publicada com exclusividade na Papo de Galo_ revista #3.
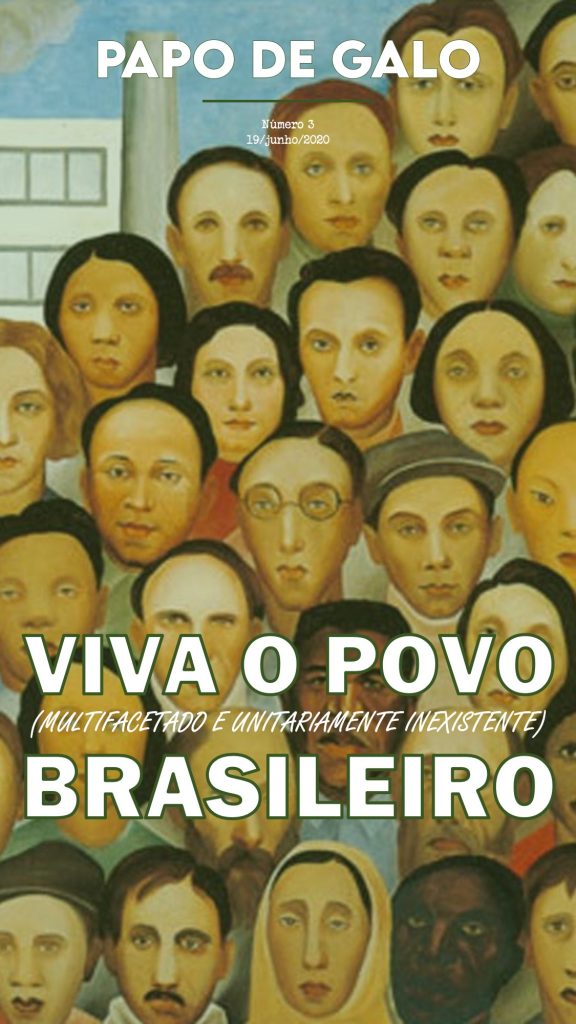
Você pode contribuir de diversas maneiras. O mais rápido e simples: assinando a nossa newsletter. Isso abre a porta pra gente chegar diretamente até você, sem cliques adicionais. Tem mais. Você pode compartilhar este artigo com seus amigos, por exemplo. É fácil, e os botões estão logo aqui abaixo. Você também pode seguir a gente nas redes sociais (no Facebook AQUI e AQUI, no Instagram AQUI e AQUI e, principalmente, no Twitter, minha rede social favorita, AQUI). Mais do que seguir, participe dos debates, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas. Com isso, o que a gente faz aqui ganha mais alcance, mais visibilidade. Ah! E meus livros estão na Amazon, esperando seu Kindle pra ser baixado.
Mas tem algo ainda mais poderoso. Se você gosta do que eu escrevo, você pode contribuir com uma quantia que puder e não vá lhe fazer falta. Estas pequenas doações muito ajudam a todos nós e cria um compromisso de permanecer produzindo, sem abrir mão da qualidade e da postura firme nos nossos ideais. Com isso, você incentiva a mídia independente e se torna apoiador do pequeno produtor de informações. E eu agradeço imensamente. Aqui você acessa e apoia minha vaquinha virtual no no Apoia.se.


